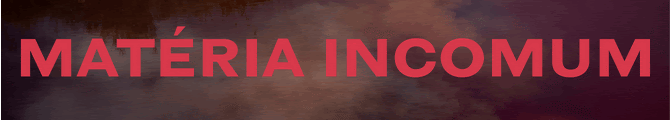|
|
JO├āO FERREIRA
Director do Queer Lisboa – Festival Internacional de Cinema Queer, que está quase a completar 20 anos de existência, João Ferreira falou à Artecapital sobre o percurso daquele que é o mais antigo festival de Lisboa e o primeiro a abordar estas temáticas. Deixa-nos aqui também alguns destaques da edição deste ano.
por Liz Vahia
>>>
LV: Dizes no texto de introdução à edição deste ano do Queer Lisboa que este “tem sido um fiel reflexo da evolução que o Cinema Queer, enquanto género, tem sofrido até ao presente.” Que alterações têm sido essas? Falas de uma expansão do olhar queer a outras áreas que não as vivências pessoais e comunitárias.
JF: O Cinema Queer tem uma história rica e complexa, cujo passado ainda está em construção, tanto quanto o seu futuro. Basta pensar que o conceito de “Cinema Gay” enquanto género é bastante recente, ele surge em finais dos anos 1970 e ganha força apenas em meados da década de oitenta, com origem não tanto num movimento artístico, mas num movimento político e social que se vem a desenvolver como reação à epidemia do VIH/Sida e do seu impacte nas comunidades gay. Só no início da década de noventa é que – aí, sim -, um movimento artístico dá origem ao chamado “New Queer Cinema”. Por isso, antes de se falar de Cinema Queer, há toda uma história de representação de personagens e narrativas LGBT na história do cinema, que têm vindo a ser resgatadas desde a década de oitenta.
Quando o Queer Lisboa nasce em 1997 ele apanha o New Queer Cinema no seu apogeu criativo, ao mesmo tempo em que académicos, críticos e programadores de cinema olham ao passado à procura das origens do Cinema Queer. As primeiras edições do festival refletem essa realidade de então: são programados os novos filmes que fazem o cânone do New Queer Cinema, ao mesmo tempo em que se celebram cinematografias mais antigas e realizadores de referência, como Derek Jarman. Desde então, o Queer Lisboa tem acompanhado as várias expressões deste cinema, desde a sua vertente mais comercial à sua ligação às linguagens mais marginais, que continua a ser o seu grande denominador.
Se desde a década de oitenta até muito recentemente, o Cinema Queer tem-se concentrado, por um lado em construir uma história da cultura queer e, por outro, em explorar as muitas vivências e problemáticas das suas diferentes comunidades, hoje, assistimos cada vez mais a uma abertura temática – e até formal -, do Cinema Queer ao mundo que o rodeia. Ou seja, há uma abertura cada vez maior ao mundo exterior, aos grandes problemas da nossa sociedade e ao lugar e relação dos indivíduos e comunidades queer com esse mesmo mundo.
LV: É um pouco uma aproximação à origem do termo queer, ele próprio uma reacção a uma certa normatividade gay. Concordas?
JF: O termo “queer”, durante grande parte do século XX, no mundo anglófono, teve uma conotação bastante negativa, ligada ao insulto. No final do século XX, quer alguns movimentos políticos, como a Queer Nation, nos EUA, quer a academia, apropriaram-se desse termo, subvertendo esse mesmo significado. E, sim, o termo “queer” passou a significar, não apenas um alargamento da ideia de sexualidade, longe dos conceitos heteronormativos, como uma reação a políticas gay mais conservadoras. E o movimento do New Queer Cinema seguiu esse mesmo conceito.
LV: O Queer Lisboa, pela sua longevidade, também acompanhou a evolução do panorama lisboeta relativamente aos festivais de cinema. Espaços culturais, dinâmicas, públicos... tudo se alterou bastante. Como é organizar hoje o festival, comparando com as primeiras edições?
JF: É uma realidade radicalmente diferente. Na altura em que o então denominado Festival de Cinema Gay e Lésbico de Lisboa (FCGLL) surgiu, em 1997, existia apenas um festival de cinema de vídeo em Lisboa. No início, além da enorme curiosidade que o Festival despertou, tivemos a responsabilidade de ser bastante abrangentes em termos temáticos, pois não havia outra montra em Lisboa para o cinema, por exemplo, do Werner Herzog ou do François Ozon. Alguns anos depois, os Encontros da Malaposta, em Odivelas, deram origem ao DocLisboa e surgiu também o IndieLisboa, para além de inúmeros outros festivais e mostras temáticas que preenchem o atual panorama de Lisboa. Se, como referi, os primeiros anos foram de alguma curiosidade em relação ao festival, foram também de alguma desconfiança, não só por parte de espectadores, mas de potenciais patrocinadores. No entanto, é de realçar que muito cedo tivemos um apoio e incentivo quer da Câmara Municipal de Lisboa, quer do ICA – Instituto do Cinema e do Audiovisual. Com o surgimento de outros festivais, o FCGLL passou por um período complicado de financiamento, que coincidiu com as suas 7ª e 8ª edições, altura em que fomos para o Cinema Quarteto. Mas, através de um trabalho persistente e de uma reestruturação do Festival, desde há dez anos a esta parte temos contado com um crescente apoio institucional e os privados aderem cada vez mais ao Festival. Neste momento, podemos orgulhar-nos de um nível de reconhecimento muito forte e de uma certa estabilidade financeira que nos permite uma importante liberdade na nossa programação e a manutenção de uma equipa a trabalhar todo o ano.
LV: Nesta 19ª edição, a secção Queer Art passa a ser competitiva. Foi devido ao aumento de submissões ou aposta numa área mais experimental?
JF: Quando criámos o Queer Art há sete anos atrás, no Queer Lisboa 12, a nossa intenção foi precisamente a de criar um espaço para linguagens mais marginais, pouco conhecidas do Cinema Queer, com especial destaque aos jovens realizadores. Tanto que nessa primeira edição dedicámos um programa ao cinema de um jovem realizador do Quebeque, o Pascal Robitaille. O Queer Art, por outro lado, foi-se desenvolvendo também num espaço que dá a conhecer a obra de outros artistas queer, através de documentários sobre as suas vidas e obras, ou através de outros suportes audiovisuais. Ao longo dos anos, esta secção teve uma repercussão que nos surpreendeu, chamando a si um público muito fiel. Achámos então que era chegada a altura de criar uma competição com estes filmes, o que é sobretudo uma forma de os dignificar e mediatizar, a par das outras competições do festival. Outro fator é, claro, a quantidade crescente de filmes que nos chegam todos os anos que vão ao encontro da política de programação do Queer Art, o que contribui para a pertinência desta nova competição.
LV: Paralelamente a esta secção, vamos poder ver uma vídeo-instalação sobre Bob Mizer, fotógrafo e cineasta norte-americano, fundador do estúdio Athletic Models Guild. A progressiva aproximação às artes visuais é uma intenção do Queer?
JF: Parece-me inevitável essa aproximação. Não apenas por uma tendência pós-moderna de transdisciplinaridade em que o cinema tem vindo a ser cada vez mais contaminado por todas as outras expressões artísticas - e a própria linguagem cinematográfica está presente nas outras artes -, mas porque o Cinema Queer nasce de um cruzamento de disciplinas. Aliás, a primeira edição do Queer Porto parte desta mesma premissa, a de por o cinema em diálogo com outras expressões artísticas queer. E não é por acaso que a obra do Bob Mizer está presente este ano no Queer Lisboa. O trabalho fotográfico de Mizer, focado no corpo masculino – homoerotismo disfarçado de imaginário atlético -, e que era vendido por catálogo, deu origem a uma importante estética cinematográfica, explorada mais tarde pelo próprio Mizer e por inúmeros outros realizadores como Kenneth Anger, Wakefield Poole ou Bruce LaBruce, ou fotógrafos e artistas plásticos como Robert Mapplethorpe ou David Hockney. Esta é uma oportunidade única de tomar contacto com a obra de Mizer, no momento em que foi criada uma Fundação em Los Angeles com o seu nome, habilitada a recuperar, preservar e divulgar a sua obra, e que nos cedeu os filmes que iremos apresentar.
LV: Podes destacar alguns dos filmes desta 19ª edição? O que é que o João Ferreira não perderia?
JF: Destacaria logo à partida o nosso filme de abertura, o “Praia do Futuro”, do Karim Ainöuz. Não apenas porque temos já uma longa história de amizade com o Karim e porque ele realizou aquele que é para mim um dos mais importantes filmes da história do Cinema Queer mundial, o “Madame Satã”, mas porque esta sua mais recente longa-metragem, além da belíssima realização, direção de fotografia e interpretações, é de uma humanidade absolutamente desarmante. Outro filme que não perderia é o “Amor Eterno”, do Marçal Forés, que mistura alguns elementos clássicos do filme de adolescentes com uma dose surpreendente de crueldade, adicionando a isso uma enorme liberdade narrativa. A não perder também é a reescrita que a jovem realizadora catalã Gemma Ferraté faz da história do Judas Iscariotes, transpondo os elementos religiosos da culpa para a atualidade, na forma de uma viagem metafísica pela floresta, em “Tots Els Camins de Déu”. Por último, destacaria o documentário “Welcome to this House”, da artista plástica e realizadora norte-americana Barbara Hammer, onde é feita uma abordagem diferente à vida e obra da poeta Elizabeth Bishop, através de uma revisitação das várias casas que habitou ao longo da sua vida, com destaque para a sua passagem pelo Brasil, onde viveu com a arquiteta Lota de Macedo Soares.