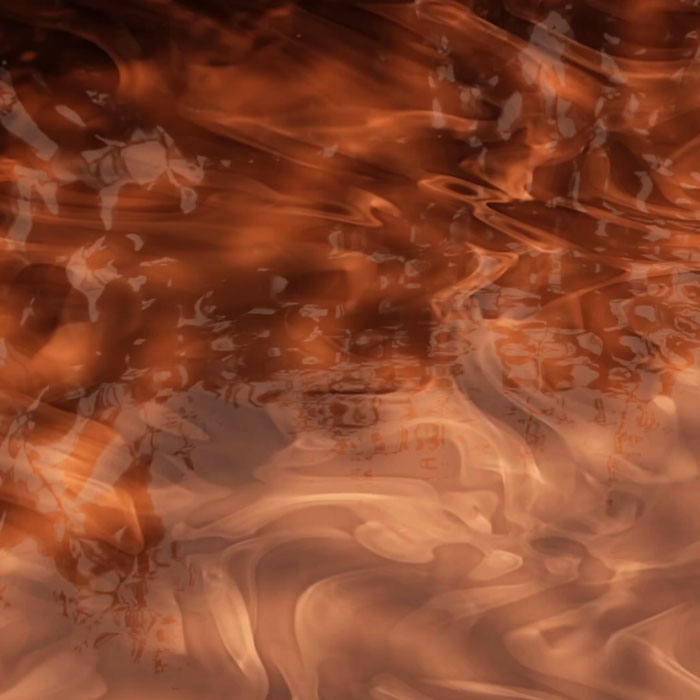|
|
ANA PI
30/11/2024
“O trabalho coletivo de reencontro exige muita concentração para nós que estamos sempre evocando a paz, a humanidade, o humanismo, a ecologia”
A partir dos Estados Unidos, criando em residência artística, fala Ana Pi sobre a sua arte, um grande estimulador de vida que se rege pelo movimento, conversas que são “dança, filme, poesia, pedagogia” - coreografia. As palavras de Ana Pi são gestos, são movimento que no sentir se encontra a comunicação. Não se encerra em linhas temporais lineares e institucionais. Trata-se de uma “artista do imaginário”, dançarina extemporânea, pesquisadora de danças afro-diaspóricas e urbanas, tendo como mote das suas obras transdisciplinares as noções de “trânsito, deslocação, pertença, sobreposição, memória, cores e gestos comuns”.
Em toda esta profundidade encontram-se as obras de arte NoirBLUE, The Divine Cypher, Raw On, Meditation on Beauty, Fumaça, entre outras, agora em processo de criação ATOMIC JOY.
Obras que têm sido apresentadas em espaços como o MoMA, Centre Pompidou, Fondation Cartier, Fondation Pernod Ricard, Museo Reina Sofia, Museu INHOTIM, MASP, Festival Alkantara, Panorama da Arte Brasileira - MAM, Centro Cultural Lá da Favelinha, Festival d'Automne Paris.
Para a Artecapital, Ana Pi expressa tudo isso e muito mais, numa coreografia que se constrói sobre caminhos indiretos, atemporais, em que a beleza vive no momento em que a continuidade é operada.
Por Filipa Bossuet
:::
FB: Por mais que existam biografias, textos que descrevem as tuas obras, eu gostava que te pudesses apresentar, uma vez que a produção artística, a vida, vai se alterando.
AP: Eu sou a Ana, sou uma pessoa nascida em Minas Gerais - como o seu próprio nome indica é uma terra de profundidade, então sou uma pessoa preta dessa profundidade, das minas. Viajo no fundo da terra há algumas linhagens. Viajar é algo que faz parte da minha prática. A palavra viajar tem todas as conotações possíveis e aí eu deixo cada pessoa com o seu próprio repertório de viagem pensar o que viagem significa. Para mim esse verbo é absolutamente contracolonial, dependendo de qual pessoa está viajando, e é por isso que eu gosto de viajar para alguns lugares específicos - para realizar encontros específicos com conversas específicas. Essas conversas se transformam em dança, coreografia, filme, poesia, pedagogia. A minha palavra central no trabalho, sem dúvida, é o movimento. Das Minas Gerais, é importante dizer que passei pela Bahia e venho circulando pelo mundo o máximo que posso.
FB: Desde pequena que danças. Existem fotografias no teu perfil de Instagram em que estás vestida com roupa de Ballet. Como experienciaste a tua infância?
AP: A primeira experiência não tem foto. A primeira experiência sou eu jogando Capoeira Angola dentro da barriga da minha mãe. A minha mãe e o meu pai faziam Capoeira quando eu era criança. Outra experiência que tenho antes dessa foto é o Samba, outra infusão é uma manifestação que acontece em Minas Gerais há séculos, que se chama Congada ou Guardas de Moçambique. Essas três culturas negras afro-diaspóricas são mais importantes que a minha roupinha de Ballet. A minha relação com o Ballet clássico acontece porque na minha época de criança e adolescente, se você gosta de dançar e quer estudar dança é a aula que a sua família vai te inscrever ou vai ser a aula que o projeto para as crianças vai ter. Nessa época, as aulas de Capoeira, Samba ou de Congada não tinham o mesmo tipo de respeito que o Ballet clássico.
Hoje eu sinto que o meu corpo sempre esteve negociando entre o que é a hegemonia e o que são as tradições afro-diaspóricas - que são o que fazem com que o meu coração bata num bom ritmo. A experiência do Ballet me deu alguns tipos de ferramentas formais que eu posso usar e, às vezes, até quando eu não uso, eu não uso propositalmente, mas eu consigo identificar porque essa prática durou alguns anos. Eu fiz coque no meu cabelo durante alguns anos, segurei a minha barriga ou apertei a minha bunda para dentro e andei com uma certa rigidez no corpo que treinou o meu corpo a algum tipo de mundo rígido. Isso é algo que eu não destruí, está inscrito de alguma maneira na minha forma de trabalhar, mas sem dúvida que o que alimenta o meu fazer são outras práticas que não têm foto. Não tinha câmara para tirar foto na hora.
FB: O Ballet tem uma base muito militar - a rigidez do corpo, os movimentos que são de alguma forma muito demarcados, a postura. Falaste da palavra negociação, mas depois também disseste que de alguma forma não destruíste essa formação da dança clássica na tua vida. Como compreendes essa base mais militar da dança clássica em conversa com o teu olhar sobre as danças urbanas?
AP: A negociação sempre esteve presente. Vou dar um exemplo em termos de tempo de dedicação. Imaginemos que tenho uma hora e meia de aula de Ballet duas vezes por semana, ou seja, três horas de prática, aí eu vou domingo na casa da minha avó e a gente samba o dia inteiro.
Existe algo que é a experiência de pessoas negras que sempre funciona - na minha opinião - no mínimo por duas camadas: a camada da invisibilidade que a gente opera enquanto máquinas na sociedade – vamos trabalhar nos postos de manutenção, vigilância, etc., cuidando de tudo e de todos; e existe a camada intangível que é a nossa camada de humanidade onde nada nos prende, onde o nosso divino se manifesta. Essa camada acontece para todo o mundo que tem experiências muito complexas, ambíguas, que o racismo forja.
Uma pessoa que trabalha na caixa de um supermercado, viaja a cidade, está ali funcionando como uma máquina. Chega no final de semana e é a rainha do baile Funk.
Esse tipo de negociação, quando eu penso na minha pessoa criança, negociando esse corpo que relaxa e prende a bunda, vai só forjando a capacidade de estender o gesto. O gesto fica ainda mais amplo. Na hora de prender a bunda eu sei exatamente como, porque eu sei exatamente como é quando a bunda não está presa. Tem que ver com a tradução, negociação. Tem que ver com o facto de comer com pimenta, comer sem pimenta, comer com a mão, comer com o garfo, sentar na mesa, sentar no chão. Fazer faxina, sujar.
Esse tipo de lugar. Tem pessoas que só experimentam um lugar e não sabem o que é o avesso, as pessoas que experimentam o avesso do lugar também estão conscientes do que é o lugar “oficial”. Essa é a vantagem de ser periférico porque a gente vê tudo. A gente sabe de tudo, entramos em todos os espaços.
Para também contemplar uma outra parte da sua provocação. Na pesquisa que venho desenvolvendo sobre as danças periféricas e de rua, que muitas vezes são chamadas de danças urbanas, eu percebo que Capoeira, Samba, Congada, são na verdade formas anciãs, porque falavam das cidades numa outra época. Numa época em que talvez não existia o metro, talvez a eletricidade não estivesse tão banalizada, talvez não existia internet, mas a presença do corpo na rua reivindicando o espaço público e fazendo daquilo um saber popular e colectivo já existia. Então, por exemplo, é sabido que a Capoeira Angola influenciou muitíssimo o nascimento da Breakdance em Nova York. Houve um trânsito de capoeiristas que vieram para Nova York e muito do que acontece no chão da break foi aprendido pelos jovens, porque faziam aula de Capoeira com os capoeiristas que estavam aqui. São conversas afro-diaspóricas. Sempre aconteceram essas modificações, transformações. Para mim é tudo a mesma família, só que existem danças que são mais velhas que as outras.
FB: Quando te referes às danças urbanas, danças tradicionais, sagradas, danças de rua, periféricas, de que danças se tratam na tua pesquisa?
AP: Esse ano se concluiu a prática de uma conferência dançada que eu fiz durante os últimos 10 anos, e já nessa conferência existiam 10 danças que me acompanharam nos últimos anos: Pantsula, Kuduro, Passinho, Break, Voguing, as outras disciplinas do Hip-Hop (Locking, Popping, Dubstep, Krump, House). Essas 10 danças me acompanharam como uma espécie de prece.
Eu não posso dizer que sou uma praticamente delas de um ponto de vista tradicional. Eu não sou uma mother de uma casa de Voguing, não sou uma campeã de nenhuma dessas danças que em alguns momentos envolvem batalhas, etc. Falei sobre elas, sensibilizei as pessoas. Essas danças me levaram a falar sobre elas em vários países, conversar com pessoas que estão em situação de cárcere, em museus, com crianças. Foram mais de 400 apresentações, um público muito grande ouviu falar sobre elas, como partilham de códigos parecidos, como surgem, às vezes de forma sincronizada em territórios muito longínquos. A pesquisa compartilhou dados muito sociológicos. Fora as danças que não estiveram nessa pesquisa, mas que entraram em algum momento da minha vida, por exemplo, na época da pandemia houve um desafio no TikTok que se chamava Joro Challenge (desafio realizado com a música de Wizkid intitulada Joro) e que as pessoas dançavam com uma garrafa de plástico na cabeça. Essa garrafa ficou uma grande garrafa, virou um dos elementos centrais do espetáculo The Divine Cypher, que eu ainda apresento.
FB: Tens levado para vários países.
AP: Sim. Eu pesquiso as danças à medida que viajo, converso com pessoas. Vejo muitos muitos muitos muitos conteúdos nas plataformas digitais, que é uma forma de desenvolvimento dessas danças, por exemplo, o funk ou o passinho se desenvolve muitíssimo por essa via, é uma das danças que eu realmente acompanho desde o início, com a mesma atenção, como se vai alterando à medida que as internet’s também vão chegando com outras possibilidades e como isso influencia as distintas gerações de dançarinos e dançarinas das danças de Funk. É assim que vou trabalhando. Às vezes existem danças que eu sei dançar um passo básico, outras que sei entrar na roda. As danças que mais me deixam de uma certa maneira à vontade, é uma categoria que se chama footwork, que são danças em que dançar com o pé é importante, por exemplo, House, Pantsula, Passinho. O Samba é um footwork, eu entro na roda de Samba. É diferente, por exemplo, do Voguing que você cai, dança com as mãos, com o rosto, com a roupa com que você está vestida, você dança com o seu género, com a sua orientação sexual. Antes de tudo, você dança com a sua vida. Eu estou mais próxima do House do que do Voguing, por exemplo.
FB: O que é Pantsula?
AP: Pantsula é uma dança da África do Sul que hoje em dia está inclusive em plena mutação, está se transformando nessa maravilhosa manifestação que é o Amapiano, só que o Amapiano está tirando um pouco dos pés e vindo mais para a parte de cima. Pantsula é a dança e Kwaito é a música. O Kwaito é um ancião do Amapiano.
FB: Foi na época em que estudavas na Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia que estabeleceste uma parceria com o Centro Cultural Lá da Favelinha em Aglomerado da Serra, Belo Horizonte, ajudando a mapear os dançarinos da comunidade para engajá-los nos projetos de dança?
AP: Não, foi depois. Foi exatamente essa figura que eu brincava de chamar teacher girl, uma professorinha que ia às escolas, uma prática que durou 10 anos, que estabeleceu essa parceria. Nesse momento eu já não tenho vínculo de formação, já estou vivendo, já estou trabalhando, inclusive, eu sinto que muitas vezes nas conversas a gente vai muito pelo ângulo das formações e na verdade, às vezes, nem são as formações que são o mais importante. Estamos falando do Palácio das Artes, agora a universidade, mas tem coisas que o nosso trabalho é que faz. Já não estamos filiados a escola nenhuma, às vezes estamos muito sozinhas e muito teimosas falando: “vai dar certo”.
Quem faz a parceria com o Lá da Favelinha é a minha versão pesquisadora de danças de rua. É essa figura que fala: “Peraí, as danças de rua precisam ser respeitadas”. As danças de rua são uma economia criativa que move o mundo. Naquele momento, em 2015, o Centro Cultural Lá da Favelinha estava começando através da iniciativa do meu grande amigo e engenheiro cultural que se chama Kdu dos Anjos, que começou o centro cultural com algumas pessoas através de uma oficina de rap - ele sendo rapper dando uma oficina de rap - e uma biblioteca comunitária. Quando fui lá pela primeira vez dar uma oficina de dança para pessoas de danças de rua que vinham de disciplinas diferentes, foi um grande encontro de pessoas que faziam Voguing, outras faziam House, etc. Aí eu falei: “Pessoal, vem cá que a gente conversa bem junto e aqui é um lugar de dança”. É a partir desse momento que eu me torno madrinha da dança do Centro Cultural Lá da Favelinha e além da biblioteca e da oficina de rap, a dança vira também um dos pilares desse centro cultural que hoje em dia trabalha com muitos pilares - moda, línguas, terapia, advocacia. É um lugar muito especial que eu convido todo o mundo a conhecer, no Aglomerado da Serra, um dos maiores aglomerados de favela no Brasil, em Belo Horizonte. Eu não nasci lá, mas o meu bisavô morou lá, foi um dos primeiros moradores de um grande aglomerado e eu me sinto em casa lá, assim como me sinto em casa em outros lugares.
FB: As danças de rua sempre estiveram presentes desde a barriga da tua mãe e não houve um momento em que possas compreender que seria esse o caminho que irias seguir. Foi tudo muito orgânico.
AP: Sim, eu acho que orgânico e tudo muito periférico, porque periférico também é coisa de computador e é por isso que eu também gosto muito dessa palavra. Eu tenho 38 anos, eu vi as redes sociais aparecerem. Eu vi o Youtube aparecer, a primeira vez que eu subo um vídeo meu - que infelizmente tive que subir novamente mais tarde - foi em 2006. Porque é que eu estou falando isso? Porque as redes sociais alteraram a ordem do mundo. O regime de visibilidade com que a gente navega hoje em dia não existia. Quando digo visibilidade, é de contagem de visualizações. Existiam antes pessoas, instituições que regulavam o que era importante e o que não era importante. Hoje, um vídeo de Funk faz milhões, bilhões de visualizações e não é importante? Claro que é importante. Isso faz parte da minha pesquisa porque eu vi isso acontecendo, eu me dou conta de pessoas espalhadas pelo mundo que resolvem compartilhar suas fitas cassetes VHS e acabam sendo arquivos valiosos, que vão nos mostrar o que estava acontecendo em Angola, outros lugares. Não seria possível contar com essas informações para desenvolver uma metodologia de trabalho pelos meios hegemónicos. Os meios hegemónicos estavam fingindo inexistência de algumas práticas, culturas. A vivência das internet’s se tornou orgânica dentro do meu processo porque eu também estou entrando no meu quotidiano.
FB: Tornou-se orgânico para ti enquanto bailarina a pedagogia e seres uma bailarina coreógrafa, em vez de, por exemplo, apenas intérprete?
AP: Isso tem que ver com a minha formação. Talvez eu soubesse antigamente muito mais que seria uma professora. O horizonte da pedagogia me parecia mais possível enquanto profissão e remuneração no quotidiano, do que uma perspetiva de artista. Hoje em dia, a gente vê artistas que vêm de povos originários, LGBTQIA+. Há 10 anos não é que não existia, sempre existiu, mas a gente não tinha esse acesso institucional. É o regime de visibilidade que fez com que uma pressão fosse exercida, para que a gente pudesse acessar.
Gerações mais novas vão ter dificuldade de observar essa transição e, de uma certa maneira, ainda bem, mas não veio de graça. Houve um regime de visibilidade, solidariedade, de tudo o que era marginalizado e que estava fora de um certo radar e hoje em dia é mais comum. Já era para ser como há muito tempo, mas é um processo que acontece com fibra ótica, com terra, mas com eletricidade, poeira, com muita coragem de gente teimosa.
Nas diferentes fases da internet, e por isso digo as internet’s no plural, porque não existe mais a internet. Houve uma época em que o algoritmo não era excludente, em que a ideia de hashtag exercia algo sobre o regime de visibilidade e de visualizações. Hoje falamos que #BlackLivesMather vem de há uns anos para cá, mas ela existe pelo menos desde 2013-2014. Hoje em dia, se colocamos uma hashtag o algoritmo reage dizendo: “Fulano está manifestando conteúdo político. Esse conteúdo não vai ser distribuído”. Houve um tempo em que a máquina estava aprendendo, ia lá e fazia determinado comando. Quando já é o lucro acontecendo, o objetivo vira outro. Esse momento forte das pesquisas ligadas às danças de rua ganha um impacto maior de 2008 a 2018. Foi uma década de um boom maravilhoso, em que o Voguing, por exemplo, uma cultura que já tem muito mais de 50 anos, voltou a ser popular, quando algumas pessoas davam o Voguing como extinto. A cultura não só mostrou que estava vivíssima como se espalhou ainda melhor. Tudo o que havia bloqueado o Vogue de se espalhar antes, se desbloqueou a partir de um boom de uma determinada época da internet.
FB: Da Bahia foste para França?
AP: Não. Nada na minha vida é direto. Sempre que eu acho que vai ser direto, não é direto. É tudo misturado, inclusive Salvador. Eu fui para Salvador e sempre fui Salvador, Salvador sempre esteve. Não tem essas distinções, não tem linha do tempo. Não tem o que vem depois para depois vir…é tudo assim, volta, vai…
FB: Como aconteceu o processo de ires para França viver?
AP: Como? Eu não sei se tem muito como, tem pra quê. Eu fui para Paris porque é uma das cidades mais afro-diaspóricas do mundo. Eu fui para ouvir várias línguas do continente africano no metro. Eu fui para Paris para comer mafê. Eu fui para Paris para comer croissant. Eu fui para Paris porque em Paris a dança é um campo de prática artística que pode ser respeitado nas suas mais variadas formas.
FB: As fundamentações e sinopses das tuas obras constroem-se sobre as palavras “transpiração”, “emaranhamento”, “sessão de treino", “gestos ancestrais que não sofrem de obsolescência programada". Daqui pode-se compreender o teu trabalho no espaço da experimentação, improvisação? Se sim, como o compreendes?
AP: Num outro dia desses eu entendi que a improvisação é uma tradição negra, o Jazz nasce assim.
Dentro disso a improvisação é uma tradição. As palavras tradição e improvisação quando conectadas, uma com a outra, bem coladinho, é o que mais me interessa.
Eu gosto, por exemplo, de pensar que em qualquer um dos trabalhos, uma pessoa bem mais velha do que nós duas juntas e que também é artista, vai se sentir, de certa maneira, em diálogo. Eu gosto de pensar em continuidade, em ancestralidade como uma postura de humildade com o que veio antes de nós e que nos permite estar aqui. Uma outra palavra que me interessa muitíssimo é a resistência. Essa palavra resistência que seja por um âmbito físico, uma fisicalidade, uma qualidade gestual. Não é flácido, não é mole, é resistente, altivo e, ao mesmo tempo, tem algo que fala de uma certa perseverança, e fala de ancestralidade obviamente. Eu sei que o meu trabalho – por mais que opere muito no campo da coreografia e mais recentemente nos campos que têm que ver com a imagem – é muito linguístico. É uma elaboração de discurso. A palavra discurso sempre esteve presente porque as pessoas da dança falam, parece que não, mas elas falam e elas têm várias coisas para falar. Quando na dança parece que…precisa a palavra vir, não? Da mesma forma que tem muita gente que escreve que dança, gente que escreve que cozinha, gente que faz música, mas que pinta. O lugar de transdisciplinaridade sempre me interessou, mais recentemente eu me senti numa coisa que é interativa. Não é que me interessou, é que eu só sei ser assim [risos]. Na verdade, sempre teve imagem na dança, na minha. Sempre fiquei preocupada com isso, olhem só. Tem coisas que a gente vai se dando conta no caminho. Existem algumas fórmulas que a gente vê por aí e fala: “Nossa, deixa eu ir por essa fórmula” e aí a gente fica tentando, mas não tem nada a ver com a gente. O famoso murro em ponta de faca.
FB: Tendo como referência as performances Fumaça, que aconteceu no Pelourinho, em Lisboa, no âmbito do Festival Alcantara 2021, e RAW ON - ancient technology of resistance com o Dj Firmeza, apresentada na Fundação Pernod Ricard, em 2022, no âmbito do Ciclo de Performance de Paris, eu não vejo uma coreografia convencional no teu trabalho. Vejo movimentos e um lugar de exercer esse movimento de uma forma bem afincada, de modo que as pessoas consigam identificar exatamente cada um dos movimentos individualmente e sobre esse entendimento, conversa, é que surge a coreografia.
Identificas-te com esta descrição? É algo intencional?
AP: Claro. Isso é coreografia também. É uma proposta coreográfica.
Uma das coisas que a dança faz no geral é fazer com que as coisas pareçam fáceis, é um grande pulo do gato da dança. Nós aprendemos a conversar com essa qualidade do que é espontâneo, mas para mim existe algo que está se aproximando da cozinha e da culinária. Saber o ponto da comida, saber o ponto do açúcar, da pimenta, do sal. O equilíbrio, a temperatura do alimento, a gente vai falar: “isso é culinária”. Saber conversar com um músico sem que a gente precise ensaiar porque ouço a música dele há uma década. Conheço a música do Firmeza há uma década, faço, me alongo. Quando você vê aquela sessão de treinamento, a gente não treinou uma década, mas não significa que aquele encontro leva a palavra improvisação para o seu lado mais avacalhado, porque tem muita gente que usa a palavra improvisação para dizer que é qualquer coisa, por isso é que disse no início da minha resposta que me interessa a palavra improvisação quando ela se conecta indissociavelmente da palavra tradição. Quando estou ali dançando e o Firmeza propõe uma alteração na batida, propõe um silêncio, ou sou eu que estou liderando a proposição e ele vai… esse tipo de conversa é coreográfica, dentro do que é coreografia para mim. Dentro de um encontro entre elementos que o trabalho sente vontade de fazer e que depois que o trabalho está feito parece que já estava lá. O que é a coreografia? É a escrita do corpo no espaço. Essa escrita do corpo no espaço foi determinada por elementos gestuais, musicais, estéticos, para que a gente perceba de uma determinada maneira. Existe um tipo de vestimenta, existe a decisão se é dentro ou fora, como é que o público está sentado. Tudo isso é uma decisão coreografada que eu determinei.
Às vezes quando nós observamos as danças de rua – que é a mesma coisa – vamos ver uma batalha de uma certa dança aqui, outra de uma certa dança lá, etc., alguém determinou. Talvez esse alguém seja uma comunidade que determinou como as pessoas iam se encontrar para dançar. Essa dança [Performance RAW ON], que também é uma dança afro-diaspórica que se chama Soul Train, tem umas pessoas de um lado, umas pessoas de outro e vem alguém que vai passando no meio desse frente a frente.
Várias outras coreografias, vários desfiles, desfiles de Carnaval, são uma coreografia. Você vai ver esse desfile no Carnaval lá em Londres, aqui no Brooklyn, em Salvador e daqui a pouco vai ser lá em Lisboa também (está começando a ter). É assim, começa assim, não é qualquer coisa. Não é autoritário, mas tem uma ordem. A ordem é coreográfica, é divina. Popular, mas também pessoal. Migrou de um lugar para outro, às vezes, ela aparece na tela, às vezes é percebida na imagem.
Para voltar na conversa da questão da formação e da timeline, daqui a pouco a escola serei eu. Vai ter gente estudando comigo e é para isso que eu estou trabalhando. A gente não pode ficar o tempo inteiro sem escola – digamos assim – batalhando com a escola que você não quer estudar. Quando a gente pensa nos escritores, nos poetas e nas poetas negras que não tinham editor para publicar, também diziam que o que eles faziam não era poesia. Ou quando o pessoal do Hip-Hop fazia música e não tinha selo para distribuir, também falavam que aquilo não era música. Hoje em dia o que eles fizeram? Criaram o próprio selo e não existe música sem essa música. O que eu faço é coreografia.
FB: A continuidade desse pensamento também explica o porquê de colaborares com várias pessoas no teu trabalho?
AP: Ampliando para a Príncipe Discos enquanto selo. Eu acho tão bonito. Sempre fiquei pensando: “Nossa, seria tão bonito que em Paris também tivesse um selo assim. Tivesse essa festa”. Penso: “Nossa, em Belo Horizonte tem uma coisa, em tal lugar de Salvador vai ter outra coisa”, mas são lugares que não são uma escola necessariamente, mas são pontos de encontro.
FB: Nessa troca com o outro e como essa troca tem um nível de profundidade e significado que vai para além daquele momento, penso no trabalho Meditacion on Beauty, com a Marie Ange Aurilin.
AP: Às vezes a experiência de artistas colocam eles num lugar de solitude, de isolamento, e que algumas pessoas vão chamar de genialidade. A pessoa fala: “Eu fiz, eu aconteci”, acontece que algumas experiências ficam antagónicas se partem dessa atitude de isolamento. Por exemplo, as danças que me interessam, que me alimentam e que eu gosto de alimentá-las, são fazeres coletivos e tem espaço para todo o mundo fazer várias coisas com elas. Não significa que elas não possam ser vistas por um ângulo que não é o que todo o mundo conhece, por exemplo, quando a gente pensa nas danças tradicionais haitianas e quando pensa que uma pessoa brasileira vai procurar uma pessoa haitiana para aprender a dançar. Eu resolvi apresentar para as pessoas e coreografar aquele momento porque eu vejo um potencial, principalmente quando a preocupação é a questão da beleza. Eu acho extremamente belo esses momentos em que a gente está vendo a continuidade ser operada. O jeito que a Marie Ange vai ensinar uma pessoa que não dança, vai ser um jeito. O jeito que ela vai ensinar para mim vai ser de outro jeito.
Tudo o que eu faço mesmo quando vira um filme, é coreografia. Pode parecer óbvio depois e ainda bem, o objetivo é esse, não é parecer que é complicado, que foi um sofrimento, um desgaste porque a cena faz isso, a leitura faz isso. Às vezes, no caso de uma pessoa que escreve, a gente vai ler o texto e falar: “Nossa, que maravilha”, mas a gente não vai saber que a pessoa ficou presa num parágrafo durante um mês. Na hora que a gente lê, está ótimo, entendeu, bate palma e pronto.
Dentro da palavra coreografia tem a palavra grafia, de escrever. É realmente um exercício de escrever, de escrever com o corpo.
FB: Nasceste no Brasil, Minas Gerais, um espaço com grandes influências do Congo e Angola. Vives e trabalhas em França, já trabalhaste em Portugal. São viagens com muito propósito e intencionalidade, em que a tua existência habita através de rotas que não são necessariamente e/ou conscientemente criadas por ti. No filme NoirBLUE, refletes sobre pertencimento e o “compromisso de estar”, como tu mesma referes, neste trabalho de “gestos coreográficos”.
Há algo maior que nós, que grita, que pulsa.
AP: É muito trabalho. É um trabalho coletivo e é um grande reencontro. Por exemplo, o Firmeza é meu irmão, meu mano. A gente dança junto e ri do facto de que tem horas que sabemos dançar igual, que não precisamos falar. A Marie Ange também, é minha irmã mais velha. Haiti é a primeira revolução, o Brasil é a última abolição da escravidão. O trabalho coletivo de reencontro exige muita concentração para nós que estamos sempre evocando a paz, a humanidade, o humanismo, a ecologia. É um tipo de povo que faz isso, é um tipo de percepção de existência que faz isso. O que chamamos de povos Bantu sempre fizeram isso. Fazem isso de uma certa maneira em 1500 e vão fazer de uma outra maneira em 2024, porque a gente ainda existe.
Quando você pensa que Samba é uma divindade, Nkisi, Samba Kalunga que vai virar a maior manifestação, festa do mundo. Essa [Kalunga] divindade que rege as águas salgadas e houve por volta de 13 milhões de pessoas que atravessaram essas águas. A gente ainda está conversando com o mar, a gente ainda está conversando com quem morre em guerra civil. Estamos conversando com quem morre de fome, com pai assassinado no Brasil. Tendo mais do que gente, estamos dizendo que é importante todo o mundo ser gente, todo o mundo ter coração e aí esses trânsitos vão acontecendo porque tem horas em que os lugares ficam pequenos ou tem horas que os lugares ficam muito grandes. Tem hora em que as relações humanas ficam muito chatas ou que as instituições ficam muito precárias porque existe exclusão, por isso é que a gente se move. A gente se move porque é livre. Às vezes vamos procurar acessos. Sendo eu uma mulher de Candomblé Bantu Congo-Angola, às vezes vai ser mais fácil visitar um museu etnográfico na França para ver uma coisa, tirar uma conclusão. São muitos movimentos, não é linear. Vai para a frente, vai para trás, vai volta, faz sentido uma hora, tem outra hora que você está pronto para fazer uma coisa, mas ninguém está te entendendo, aí acontece uma hashtag e todo o mundo começa a se entender, tem umas horas que a gente avança muito, tem hora que a gente briga. Enfim, é história. Um grande reencontro que vai acontecendo quase como uma promessa. Tem hora que não dá para pensar que essas coisas que são básicas não vão acontecer. Como diria o grande Édouard Glissant, a gente não precisa ficar nessa busca por um tipo de delimitação nítida. Existe uma palavra que é a opacidade. Subjetividade. A gente sonha, acorda, sente mau humor, faz coisas confusas e é isso aí. Entendeu?
FB: Através do teu site, é possível obter a informação de que, neste momento, estás em residência artística no Amant, um centro de arte contemporânea situado em Brooklyn, nos Estados Unidos, para dar continuidade à pesquisa para a criação da tua próxima peça coreográfica, ATOMIC JOY. Lê-se: “The disobedient radicality of the word joy, when combined with the toxic weight of an era inhabited by crisis and recession, has been the impulse capable of generating many cultures of high exuberance and vitality. It is precisely this infime motor force that will guide ATOMIC JOY.”
Pretendes que a obra seja apresentada com oito bailarinos e durante a residência já apresentaste um pouco desse processo com três bailarinas. Pelo que é possível ver dessas apresentações, o movimento expande-se com os adereços e com a cor cinza que vai ganhando várias tonalidades, através das camadas que reúnem a coreografia. Como está o processo de construção de ATOMIC JOY?
AP: Atomic Joy está começando. Já começou há muito tempo, no sentido dos exercícios que a gente faz anteriores ao trabalho, que são a escrita dos projetos, os editais, porque o fazer artístico também é isso. A gente comprova percurso, reúne cartas de recomendação, então já tem um tempo que eu estou me organizando para fazer um trabalho de grupo. É importante desse exercitar da coreografia, estar fora da cena e fazer esse exercício acontecer com outras pessoas que estão dentro da cena e que participaram de um processo em que vivem aquele momento da cena de uma determinada maneira. Vira um espetáculo.
É um trabalho que vai estrear em junho de 2025 em França – com um grupo de oito intérpretes – que é o lugar onde eu passo a maioria do meu tempo e quero ter essa experiência de grupo num certo quotidiano para ensaiar, criar, mas esse grupo ainda vai chegar. Por enquanto, comecei a pesquisa aqui. Todos os processos criativos engajam um tempo de pesquisa, um tempo em que todos esses arranjos entre intuição e intenção vai tudo se definindo. O que eu fiz na semana passada [17 de outubro] na Fundação Amant, onde estou em residência, foi o primeiro ensaio. Resolvi que esse primeiro ensaio já seria aberto. Como a gente ensaia já abrindo para o olhar dos outros? Por exemplo, no geral na prática coreográfica o que a gente vai ver é o resultado que quase esconde o processo. Como a gente revela o processo desde o lugar mais frágil e mais curioso? Aí essa cor cinza é uma pista. Tudo foi uma pista. Lógico que não foi tirado de uma cachola, a cor cinza já estava me chamando a atenção. Alguns elementos como turbinas de exaustores já estavam me chamando a atenção e, agora, é que eu vou começar a perceber se esses elementos ficam, se são passageiros ou se eles servem ao projeto em etapas anteriores, mas não vão estar necessariamente no espetáculo. Esse vai ser o processo criativo. Já começou, começou assim. Como o próprio nome indica, ATOMIC JOY é um trabalho que fala sobre alegria, uma alegria atómica, que é infinitamente grande e infinitamente pequena. É um trabalho que está interessado em perceber o que é a alegria e o que são outras coisas. O que é alegria e ironia, o que é alegria e o que é prazer, o que é a alegria e o que é alienação, o que é alegria e o que é euforia. O que é alegria e o que é dopamina. O que é a alegria e o que é felicidade, o que é alegria e o que é contentamento. O que é alegria e o que é satisfação. Variantes que, às vezes, a gente não vai distinguindo, mas que como vontade de trabalhar, é algo sobre a alegria como um valor radical que está, talvez, se perdendo, um pouco sufocado.
Quando eu dou nome a esse trabalho, dessa forma, é também como maneira de pensar que outras pessoas vão ficar interessadas em fazer essa busca e a alegria vai aparecer por aí. Estou achando tudo muito violento, acanhado. A gente está vivendo uma época de crise ética e moral. Estamos vindo de um grande processo de morte que foi essa grande pandemia de Coronavírus, a gente nem rezou para as pessoas que foram. Nas nossas tradições a gente toma tempo para colocar ordem quando as coisas se desorganizam.
Para pensar junto Ana Pi:
Sept Oct Nov Dec - Exhibition Viajar, Contener, Transportar at La Casa Encendida
Sept Oct Nov - Research Residency for Atomic Joy at AMANT Brooklyn
18th November - The Divine Cypher - FIFAM & Le Safran Amiens
:::
Filipa Bossuet
Filipa Bossuet é o culminar do interesse pelas artes, jornalismo e tudo o que me faz sentir viva. Nasci em 1998, sou uma mulher do norte com memórias do tempo em Lisboa. Guiada pela sede de informação e pesquisa autónoma licenciei-me em Ciências da Comunicação e penso também sobre as influências dos estudos de mestrado em Migrações, Inter-Etnicidades e Transnacionalismo, criando um diálogo e questionamento entre os campos do saber. Colaborei como jornalista estagiária no Gerador, uma plataforma independente de jornalismo, cultura e educação, e no Afrolink, uma rede online que junta profissionais africanos e afrodescendentes residentes em Portugal. Utilizo performance, pintura, fotografia e vídeo experimental para retratar processos identitários, negritude, memória e cura. O meu trabalho transdisciplinar tem sido apresentado em espaços como a Bienal de Cerveira, Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), Teatro do Bairro Alto, Festival Iminente e o Festival Alkantara.