|
|

Fotografia: Erola Arcalís
Ivana Sehic é uma artista, arquiteta e investigadora de nacionalidade croata, que vive na cidade do Porto, com um percurso de formação e colaborativo muito singular. É a criadora da cenografia de Orgia, de Pier Paolo Pasolini, de volta aos palcos portugueses, desta feita, por Nuno M Cardoso, no âmbito do centenário do poeta, dramaturgo, cineasta e pensador italiano. A peça esteve e estará em digressão pelo país nos meses de Março, Abril, Maio e Novembro de 2022; respetivamente, em Viseu, Lisboa, Matosinhos e Almada.
Por Filipa Almeida e Madalena Folgado
>>>

ORGIA (cenografia, 2022). Virando e regando a argila entre os rituais.
Fotografia: João Renato Baptista
AC: Talvez para a maioria dos nossos leitores, o contacto com o teu trabalho deu-se muito recentemente, no palco de Orgia de Pier Paolo Pasolini, com encenação de Nuno M. Cardoso.
Mas antes ainda deste palco por ti criado, como chegaste a este texto e encenador?
IS: Primeiro cheguei ao encenador e depois ao texto. Durante o primeiro ano de doutoramento, houve um dia em que fizemos um exercício em que o objectivo era expressar a nossa pesquisa apenas através de objectos. Levei um pedaço de aço laminado e andei com ele sobre a cabeça. O Nuno disse-me que nesse momento soube que queria que eu fizesse a cenografia para a sua interpretação de Orgia, e, mais tarde nesse dia, fez-me o convite. Mas a primeira vez que nos encontrámos foi no Instável – Centro Coreográfico – onde eu estava a fazer o curso intensivo em interpretação e coreografia, e ele estava a ministrar um curso de uma semana. Fiquei admirada com a sua capacidade de atravessar o pessoal e mergulhar no arquétipo – tanto na vida como no palco. Fui atraída pela sua leitura do corpo performático. Na altura em que o Nuno me propôs a peça de teatro Orgia, conhecia Pasolini sobretudo como poeta e realizador. A minha ligação com ele estabeleceu-se pela sua atração pela marginalidade, pelo seu coração vagabundo e pelas paisagens insanas dos seus filmes, as formações rochosas sobrenaturais, as formas místicas de água, os objetos vibratórios mágicos. O que me levou a tempos e lugares que eu nunca tinha vivido, a não ser pelos seus filmes, que via repetidamente. Para mim, o Pasolini é muito visual, assim como a sua poesia; trás-nos os materiais e os sons. Há um poema que foi muito importante para a criação deste trabalho: "I come from ruins, from churches, from altarpieces…I run around the Tuscolana like a madman, around the Appia like a dog with no master." [1]
E, no final das contas, o meu conceito é um altar.

ORGIA (cenografia, 2022). Fotografia: Raquel Balsa
.gif)
ORGIA (cenografia, 2022). Fotografia: Raquel Balsa
AC: Dá-nos a conhecer um pouco do teu percurso de formação, que envolve expressões e artistas tão distintos como Ernesto Neto ou Vera Mantero. Destes encontros, o que é sentes que, por afinidade ou disrupção, continuas a explorar?
IS: Frequentei, provavelmente, a melhor escola de arquitetura do mundo (AA School of Architecture), seguido de um curso incrível em teatro, focado na técnica Lecoq. Mas o mais importante e verdadeiro foi a experiência em workshops e colaborações que fiz com outros artistas. Sim, houve uma peça com o Ernesto Neto que foi especial, tendo sido desenvolvida paralelamente à sua exposição, altamente sensorial, e que apelava muito ao toque, na Hayward Gallery, em Londres. Eramos dez pessoas e usámos os nossos corpos como materiais, esquecendo completamente as nossas cabeças. Ao mesmo tempo, Tania Burguera, uma amiga sua e também artista performática e ativista cubana, estava lá, em montagem para o seu Movimento Internacional de Imigrantes, na Tate Modern. Ela aparecia e dava-nos palavras para explorarmos como um corpo coletivo. Lembro-me de marchar pelo Southbank e gritar "Refugee! Refugee! Refugee!" do fundo dos pulmões e de ter deixado de haver qualquer diferença entre mim, a palavra e o grupo. Aí o corpo veio da palavra, através da palavra, e isso é muito interessante para mim, porque normalmente estou muito mais conectada com o corpo. Curiosamente, o trabalho com a Vera Mantero foi também sobre as palavras vindas do corpo, como são formadas e como soam – e a melhor parte – como podem ser ignoradas, não entendidas, como podem ser dissolvidas, descartadas, não sendo assim tão importantes. Também foi importante o trabalho com o palhaço Eric le Bont. O meu palhaço, que não era aquele que eu queria, mas aquele que eu encontrei em mim: Uma dançarina que batia cegamente nas paredes e que ia ficando lentamente incapacitada, até que apenas um dos seus olhos pudesse mexer. Ela expressou tudo através daquele olho; dançou a sua vida toda. Foi o mais próximo que cheguei da espiritualidade através da performance. Por afinidade ou ruptura, gosto de como perguntam, continuo a explorar os limites do corpo – o material no corpo e o corporal nos materiais. E a minha formação inicial em arquitetura só agora está a começar a fazer realmente sentido para mim.
AC: No Porto, onde te fixaste, és uma das artistas do Atelier Caldeiras, queres-nos falar sobre essa experiência e potencial deste novo espaço?
IS: O Atelier Caldeiras é um coletivo de artistas formado pelo pintor e cineasta Rodrigo Queiróz, o escultor e fotógrafo João Baptista, a escultora Inês Coelho, e eu. Enquanto espaço de galeria, com uma direção inicial para as artes visuais, está cada vez mais virado para uma exploração mais performática. Nos últimos dois anos criámos trabalhos que foram habitados pela participação dos visitantes. Com Andor (2020) construímos um andor próprio que, em vez de elementos religiosos, tinha os símbolos da classe trabalhadora do Porto, e que seria montado nos ombros de 12 pessoas e levado como uma procissão pela cidade. Em Montanha (2021), construímos uma montanha escalável com obras de arte reais e outros materiais físicos, abrimos um bar lá dentro e colocámos o pintor João Alves no topo, como DJ. Por fim, o último, Inverno (2022), tornou-se performativo nos momentos em que os visitantes entravam nas duas esculturas no espaço, sendo uma delas um carro. Para além dos nossos próprios trabalhos, apoiamos outros jovens artistas. A mais recente mostra foi de Carlota Jardim e Gonçalo Gouveia, que ligaram o seu trabalho ao espaço através de grafittis de pés enormes nas paredes das suas pinturas; chamava-se A Caravana. A performatividade está muito presente, sim, e também a performatividade do próprio espaço e das condições com que recebe as coisas vindas de fora.
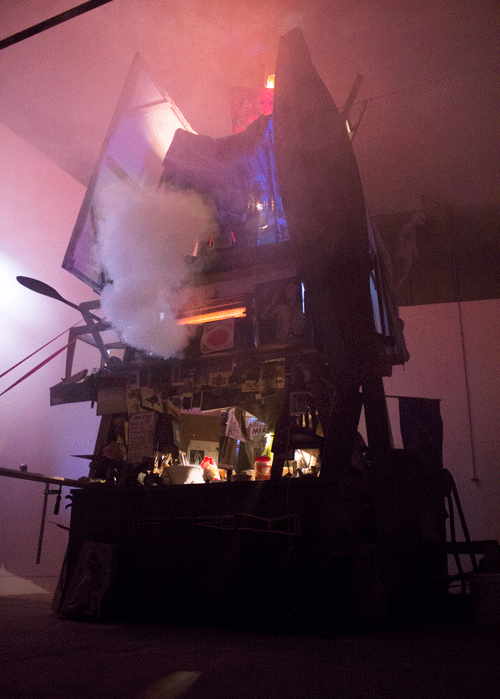
A MONTANHA (instalação, 2021). Atelier Caldeiras (Rodrigo Queirós, João Renato Baptista, João Ramos e Ivana Sehic.)

A MONTANHA (instalação, 2021). Atelier Caldeiras (Rodrigo Queirós, João Renato Baptista, João Ramos e Ivana Sehic.)

INVERNO (instalação, 2022). Atelier Caldeiras (Rodrigo Queirós, João Renato Baptista, João Ramos e Ivana Sehic.)
AC: Retomando o palco de Orgia, e o aspeto mais tocante – e tocante é aqui uma palavra duplamente precisa – quanto à tua resposta face à solicitação deste texto dramatúrgico: A criação de um corpo de amparo, como referes, um “meta- protagonista”; um corpo de Terra, que não desviando a atenção da palavra, do texto, como era intenção de Pasolini, literalmente acolhe a violência da palavra, deixa-se por ela marcar, e é permanentemente esculpido em cena. Fala-nos sobre a tua criação.
IS: Quando li o texto pela primeira vez, não o percebi muito bem, mas senti muita violência. Li novamente e anotei todos os verbos que descreviam a violência entre os protagonistas — a lista era muito pesada. Senti que era demais para três corpos e senti a necessidade de outro corpo, um através do qual a mulher, o homem e a rapariga pudessem comunicar...'No-body' could handle that violence. Imaginei um meta-protagonista que une as personagens através do seu próprio corpo terreno monumental. Usei a argila, esse corpo não humano, que está cá há muito mais tempo que nós e que nos tem; que nos tem dentro si, i.e, os nossos restos mortais e a nossa história.
Como os corpos dos protagonistas, a argila tem peso e memória, coisas escondidas dentro dela; cansa-se e torna-se disfuncional, tem sede de água, precisa de descansar no subsolo para poder regenerar e, sobretudo, pode curar-se. Os três personagens tocam o barro de maneiras muito diferentes: O homem e a mulher são os donos do barro, destroem-no e o curam-no. Quando a mulher sai de cena, morre, o barro morre com ela, e o seu ritual diário torna-se passado. A rapariga entra e dispersa o barro, desencarna-o para o homem. Todos imprimem imagens, marcas e fluídos na sua superfície e também nas suas profundezas. Após cada apresentação, esta personagem senciente assume diferentes formas, sublinhando a leitura que o Nuno faz da diversidade de Pasolini como singularidade.

ORGIA (cenografia, 2022). O lugar negro de adoração. Fotografia: João Renato Baptista
AC: Falamos, recorde-se, de um palco com seis e, depois, oito toneladas de argila. Dizê-lo demoradamente implica-nos em sentir a sua própria gravidade. Revês-te na necessidade de imprimirmos mais corporeidade no que dizemos, diante da superficialidade com que, de um modo geral, comunicamos?
IS: Testemunhei a primeira vez que os atores pisaram o protótipo. Quando pisaram a argila abrandaram muito a velocidade; a respiração ficou mais profunda. Estavam a andar, no princípio sem dizerem uma única palavra, depois disseram apenas palavras instrumentais do texto, seguidas de longos silêncios, e, por vezes, até andavam para trás. Olharam muito para aquele pedaço de Terra, porque além da memória imediata da argila e dos seus movimentos, a argila trouxe-lhes as suas próprias memórias, resíduos de milhares de anos, a sua própria história. Foi o encontro entre eles e o barro. Assisti e estava a sentir as palavras vindas dos seus corpos, a sentir as palavras não ditas que permaneciam nos seus corpos; indizíveis ou não pronunciadas. Não foi intencional, na melhor das hipóteses foi intuitivo. A única coisa que sei, foi que as palavras de Pasolini foram um murro no estômago e eu precisei de apoio para as conseguir pronunciar. Além disso, tanto os actores como eu ficámos fisicamente exaustos a trabalhar com a argila, e isso exigiu muito respeito perante este corpo terreno que parece imóvel, mas não é – É possível movê-lo, só precisa de continuidade de ação, e é isso que nos falta: Continuidade. Interrompemos tanto as nossas acções no dia-a-dia...
AC: Por outro lado, ocorre-nos que o som da tua peça enquanto “meta-protagonista” é também ‘meta-personagem’ no sentido que torna presente a per-sona – i.e., através do som. Tendo presente o texto, a tua peça dá voz ao inefável, é o som através da carne. Comentas, a partir da tua experiência enquanto performer?
IS: Quando fui a Barcelos buscar as primeiras toneladas de barro, experimentei como trabalhar o barro. O dono da olaria, o Sr. Braz, pegou num martelo enorme e começou a bater no barro. Gravei o som e era como uma batida de um coração escondido e perdido, que não conseguia ver. Quando partilhei esse som com o grupo, a Beatriz Batarda escreveu "consegue ser visceral por ser húmido, e cerebral por ser surdo". E essa surdez entrou na peça. A peça está cheia de sons entre a terra e o corpo. A Beatriz a raspar a superfície para cavar a sua própria sepultura, o Albano a atirar-se contra uma montanha de barro, a atirar o barro contra o barro, a Marina a partir pedaços de barro no chão e a atirá-los para a água, a rir das gotas saltitantes. A pergunta é interessante porque existe a linguagem do barro, mas também o som do barro, e está constantemente em fusão no próprio palco. Como performer, sinto que todos aqueles sons são os sons dos nossos corpos, aumentados através do barro, misturados com o próprio corpo e história do barro, que depois voltam a nós, vindos das suas profundezas mais misteriosas.

ORGIA (cenografia, 2022). Fotografia: Raquel Balsa

ORGIA (cenografia, 2022). Fotografia: Raquel Balsa

ORGIA (cenografia, 2022). Fotografia: Raquel Balsa
AC: Outro aspeto importante desta peça é a própria manutenção. Queres-nos contar deste processo?
IS: É um ritual duplo que acontece na peça e, mais tarde, na vida. A peça é bastante física e o palco transforma-se drasticamente durante o espectáculo. O que acontece no palco depois reflete-se na vida. No fim de cada ritual, eu entro e refaço as acções da peça. Nós (com o Rodrigo e o João) redistribuímos o barro para o lugar de onde ele foi tirado. Repomos o lago que costuma estar destruído e vazio, tiramos a roupa interior da Beatriz, que o Albano enterra profundamente no barro, e retiramos o vestido da Marina da água. Portanto, apagamos alguns dos grandes traços e marcas, mas não todos; deixamos alguma memória do anterior ritual para o próximo. Por fim, adicionamos pigmento negro e grandes baldes de água e irrigamos toda a peça. E então, há o período de descanso para apagar essa tal memória das tensões.
E é aqui que o barro se cura.

ORGIA (cenografia, 2022). Criando a poça. Fotografia: João Renato Baptista
AC: Queres-nos falar sobre projetos futuros, ou em curso?
IS: No âmbito do meu doutoramento estou a fazer três colaborações artísticas paralelas, em formato de texto, som e escultura. A ideia é que eu e o outro artista troquemos as nossas dores e criemos trabalhos com a dor do outro. A pesquisa gira em torno do luto, como possibilidade de luto coletivo, em processo. Estaremos a fazer um luto da mesma 'coisa', mesmo que não seja, exactamente, a mesma 'coisa'? E o que acontece nesse espaço colectivo de partilha e transferência? Com o Atelier Caldeiras estamos preparar a Primavera, a segunda do nosso ciclo de exposições sazonais. E com o Flock Collective, um grupo de performance com base em Londres, estou a continuar a desenvolver a nossa peça "Espaços Contestados", inicialmente encomendada pelo Diretor do Programa de Práticas Espaciais da Central Saint Martins, à volta de tensão e consentimento.
Nota:
[1] De uma das coleções “Poesie Mondane” em Poesia in forma di rosa, publicada pela primeira vez em 1964 pela Garzanti, Milão.