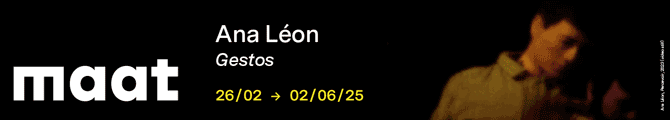|
|
AS IMAGENS EM MOVIMENTO OU O MOVIMENTO DA HISTﺣRIA EM IMAGENSPAULA PINTO2017-10-09
Na exposição “The Very Impress of the Object: Escultura em Filme”, Penelope Curtis formula a pergunta: “Por que razão os artistas, em particular os que trabalham com imagens em movimento, se interessam hoje pela absoluta imobilidade corporizada numa escultura clássica?” Mais do que responder a uma pergunta que se materializa, de diferentes modos, em cada um dos filmes em exposição, procurarei historiar um contexto comum de trabalho que assenta no fascínio pela atualização cultural dos objetos de arte. Neste processo, a imobilidade da estatuária apresenta-se como uma figura determinante para revelar o movimento da história: se a fotografia tem registado a transformação da história através da justaposição de imagens reprodutivas, o filme parece revelar-se um veículo apto a fixar esse movimento, mesmo tendo por sujeito um objeto imóvel. Todos os artistas presentes na exposição “Escultura em filme”, trabalharam a escultura clássica através da sua exibição em museus, revelando o fascínio pela distância que a arte clássica estabelece em relação ao estatuto da obra de arte contemporânea. Fiona Tan filma no John Soan’s Museum, onde cada sala foi preservada como uma composição da história; Rosa Barba filma nas reservas do Museu Capitolino em Roma como se esse espaço sem acesso público fosse, inversamente, isento da montagem da História; Mark Lewis filma a estátua helenística de Hermafrodita no Louvre afirmando o papel dos meios de percepção do espectador contemporâneo; por outro lado, impedidos de reproduzir os 113 metros de baixo-relevos do Altar de Pérgamo, Lonnie van Brummelen e Siebren de Haan reconstroem a história reprodutiva do monumento através de uma montagem fotográfica tornada linear pelo dispositivo fílmico. Eles transformam a história num objeto pós-moderno [1]: imagem e discurso são conscientes da sua mediatização, reconhecendo o diálogo estabelecido entre diferentes entidades e consequentemente, afirmando-se de forma autocritica. Só Anja Kirschner e David Panos elegem antes o Museu de Numismática de Atenas e as vizinhas minas de Lavrio, invocando a capacidade de abstração conferida ao valor monetário, para interrogarem a aparente solidez da história enquanto matéria-prima. Em vez de legendar os objetos da história, optam pela pergunta: “Será que a história permanece inalterada?” O museu é o lugar que atribui um valor inquestionável a toda a obra de arte e confere uma garantia sobre a sua preservação: é o espaço prometido da memória histórica. Contudo, foi este mesmo lugar que permitiu aos artistas pós-modernos questionar o estatuto das obras de arte. Foi depois da fotografia ter sido recebida no museu e ter conquistado um mercado, que os fotógrafos reabriram as fronteiras ao entendimento da reprodução enquanto uma forma discursiva de representação visual; sublinhando a capacidade do medium para sobrepor práticas discursivas, confrontaram o espaço de exposição com o retrato do museu. Foi encarando a reprodução fotográfica discursivamente e não a limitando à substituição do seu modelo, que a fotografia ultrapassou a sua condição documental e o próprio conceito de verosimilitude passou a poder atestar a transformação cultural da arte. A interdependência entre diferentes meios artísticos e técnicas de reprodução é crucial para o desenvolvimento crítico da arte. [2] Se a possibilidade de usar um medium para mostrar outro, permite confrontar o objecto artístico com novos contextos políticos e culturais, paralelamente, a sua reprodução afirma-se com uma renovada condição material. É a justaposição entre referentes semelhantes que dá visibilidade à historiografia que os próprios objetos escondem. E é na sua forma mais invisível, entendida como uma forma mecânica de reprodução, que a revelação fotográfica se tem tornado mais surpreendente. A história da reprodução fotográfica de obras bidimensionais não foi contudo idêntica à da reprodução de obras tridimensionais. Enquanto as reproduções fotográficas de pinturas foram, na sua origem, tecnicamente desprezadas e conceptualmente consideradas como mecânicas (ou não interpretativas) –logo deficitárias–, as reproduções fotográficas de escultura foram contrariamente valorizadas enquanto imagens das próprias esculturas. A impossibilidade de reproduzir a cor e os valores tonais da pintura, mas sobretudo a valorização do ato interpretativo de técnicas reprodutivas como a gravura, levou a que em 1859 Charles Baudelaire [3] criticasse o entendimento da fotografia como uma arte. Para Baudelaire o realismo não se reduzia ao espelho físico, mas compreendia uma reflexão mental do imaginário e da fantasia [4]; simultaneamente, para os defensores da gravura, a independência da habilidade manual desqualificava a fotografia como forma interpretativa de reprodução (versus impressão). [5] Contrariamente, o uso da fotografia reprodutiva de esculturas coincidiu com a criação de uma série de museus de escultura comparada, que propuseram a fotografia como uma alusão às obras não existentes nas suas coleções. Mas o uso da fotografia de reprodução de obras tridimensionais não implicava o reconhecimento da fotografia como uma arte. Para além do objetivo maior destes museus ser pedagógico (na sua maioria eram já museus de cópias), há que salientar o facto de as reproduções fotográficas, enquanto imagens bidimensionais, não gerarem confronto direto com outras formas de representação tridimensional. A fotografia reprodutiva facilitou o objetivo destes museus, que ultrapassava a promoção do academismo e dos atributos individuais de cada peça, para possibilitar discursos e confrontações entre esculturas de diferentes culturas e tempos históricos. [6] Foi contudo a evolução tecnológica da fotografia reprodutiva de esculturas – a sua aceitação enquanto imagem do original (não se confundindo com um “idêntico”) – que veio a retirar estatuto artístico a todas as outras formas tradicionais de reprodução. A partir desse momento, os gessos reprodutivos foram simultaneamente condenados ao automatismo de “referentes diretos” e à banalidade de referentes visuais e culturais sem identidade própria. Embora a discussão acerca do reconhecimento da fotografia enquanto arte (que passou pelo designado picturalismo fotográfico) nos tenha igualmente distanciado dos processos discursivos que esta instaurou com outras formas de representação visual, recentemente a fotografia digital veio estabelecer uma mudança substancial, não apenas ao nível técnico, mas epistemológico. Se é possível dizer que todo um sistema académico –apoiado na ideia classicista do belo ideal e dependente da prática da mimesis– desapareceu quando a possibilidade de reprodução mecânica se tornou tecnicamente sustentável, é surpreendente verificar como paralelamente, as reproduções fotográficas e fílmicas nos permitem questionar a linearidade das relações entre original e cópia, entre arte e reprodução, entre imobilidade e movimento, transpondo estas questões para a atualidade. Em 1896 (tinham os irmãos Lumière acabado de registar a patente do cinematógrafo), o historiador alemão Heinrich Wölfflin publica o texto “Como fotografar uma escultura”: “Qualquer interessado na história da escultura sente a falta de boas ilustrações. Não que as publicações sejam inexistentes –as coisas são oferecidas de todos os tamanhos e maneiras– mas parece difundida a opinião de que as esculturas podem ser fotografadas de qualquer lado, sendo totalmente deixado ao critério do fotografo sob que ângulo implantar a sua máquina. Ele crê que o seu temperamento artístico será melhor revelado se evitar a vista frontal, procurando uma vista lateral picturalista. [...] O público compra esta fotografias de boa fé, acreditando que com uma ilustração mecânica nada do original se pode perder; não sabe que uma figura antiga tem uma vista principal, e que a sua eficácia é destruída quando não se capta a sua devida silhueta; sem pestanejar, o público contemporâneo permite que os seus olhos incultos suportem a falta de clareza e as mais desagradáveis justaposições. [...] Nada é mais instrutivo do que ver lado a lado um número de fotografias ligeiramente diferentes. Só então se torna claro como um e o mesmo movimento pode produzir imagens com um valor expressivo tão diferente, como a mínima alteração num ângulo de visão pode paralisar toda a força de uma linha ou pode sugerir a completa transformação de um tema.” [7] “Como fotografar uma escultura” é uma crítica à substituição da obra de arte pela fotografia. Wölfflin acreditava na existência de um conceito original para cada escultura clássica e recusava aceitar uma percepção subjetiva, oferecida por uma dispositivo mecânico como a fotografia. Reconheceu o impacto da fotografia na interpretação da história, mas não aceitou a evidência fotográfica dessa transformação cultural. Contudo, essa multiplicidade de experiências proporcionadas pelos designados meios reprodutivos, que Wölfflin recusou, representam hoje o mecanismo de trabalho para muitos historiadores e artistas. Ou seja, se contrariamente ao parecer de Wölfflin, a história nos tem vindo a ensinar que as obras de arte não são detentoras de um conceito original e inalterável, mas são antes objetos sujeitos a transformações, é porque finalmente a reprodução fotográfica nos revelou o impacto que esta pode ter na historiografia da arte. A imagem de uma obra de arte ou de um museu pode não os representar, mas permite-nos ver o que muitas vezes os museus nos subtraem: a historiografia dos objetos, as mudanças epistemológicas e as transformações impostas pelas políticas culturais em diferentes espaços e tempos. É o movimento dessas histórias materiais –subtraído aos objetos pelo museu–, que paradoxalmente se fixa e ganha corpo nas imagens: não são as imagens em movimento, mas o movimento da história.
::: Notas [1] Douglas Crimp, “The Postmodern Museum”, in On the Museum’s Ruins, Cambridge, Massachusetts/ London, England: MIT, 1997, pp.282-318.
|