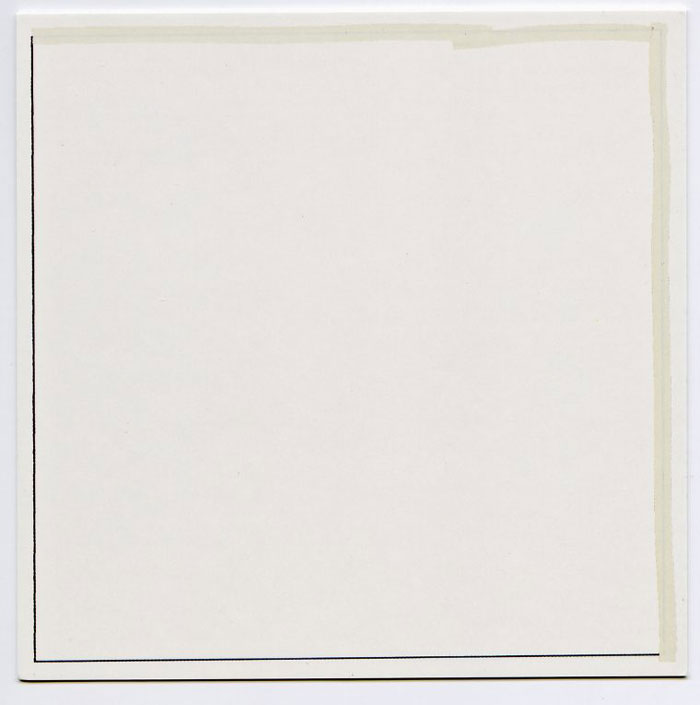|
|
NO TIME TO DIEPEDRO CABRAL SANTO2024-04-20
Muito cedo percebi a tremenda influência que as imagens visuais exerciam em mim. Desde logo, as imagens em movimento, sobretudo aquelas que provinham do cinema, e também da televisão. Aliás, ainda hoje estou refém dessas diatribes – quase sempre imagens por imagens, sem jugo ou grande valia, mas com um impacto direto, incisivo, na minha resolução e providência. Gostaria, por isso de evocar três momentos, diferentes entre si, mas relevantes para a consciencialização do fenómeno em causa, nomeadamente com retornos efetivos no modo como ainda hoje, de certa forma, tento percecionar o Mundo, e também pensá-lo em termos artísticos – coisas decisivamente diferentes. Como disse, os «bonecos» começaram a ditar-me tanto o premente relógio da infância, como o tempo quase infinito que também, e indissociavelmente, emana dessas idades. Os bonecos, sempre presentes, quer, como disse, na TV e no cinema, quer também nos cartazes, na publicidade, etc. Os títeres eram desta forma imagens que tentava, a custo, imitar, copiar. Até aos 11 ou 12 anos de idade, e sem certeza do início, dediquei todo o meu tempo à construção de «sagas» – os Piratas, construindo, em papel, barcos de dimensões variáveis, que pintava ostensivamente, e produzindo grandes batalhas na sala de jantar da casa dos meus pais... ou o Espaço 1999, uma série de ficção científica da televisão, onde com batatas e paus de fósforo conseguia construir naves espaciais, forrando-as com uma deliciosa fita de alumínio, o que lhes dava um ar metalizado, fantástico. O pai de um amigo meu de aventuras, o Paulo Faustino, trabalhava numa fábrica onde se produzia aquele produto, e eu tinha, desse modo, acesso a rolos e rolos. Vivia então na cidade da Covilhã. Foi justamente em 1979, com onze anos de idade, que provavelmente o clic fatal se instalou, e de forma definitiva. Frequentava o antigo 2º ano do ciclo preparatório, hoje o 6º ano, quando surgiu a oportunidade de nos deslocarmos à cidade de Lisboa, numa visita de estudo. Uma visita de dois dias. No primeiro dia tínhamos uma jornada ao Jardim Zoológico, e no segundo uma expedição ao Museu Gulbenkian, um lugar misterioso – até porque ninguém, entre nós, com exceção do professor, o conhecia. Esqueci-me de dizer que tinha sido o professor de Educação Visual que tinha organizado a viagem de estudo. Chamava-se David. Nunca o esqueci, era formado em Pintura, algo que não entendíamos bem, e recebia por correio – dizia-nos – revistas maravilhosas que vinham de França: a Pilote, a Metal Hurlant, e outras de que não me recordo. Ah, e também a revista Tintim, que era portuguesa. Penso muitas vezes naquele professor perdido nas Beiras e, ao mesmo tempo, muito interessado em mostrar-nos coisas absolutamente fantásticas. A razão de nos levar ao Museu Gulbenkian prendia-se com uma exposição que ali estava, um evento realizado pelo artista Jochen Gerz (muito mais tarde vim a saber que se tratava de um artista alemão que viveu praticamente toda a sua vida em França). A visita ao Jardim Zoológico tinha decorrido com a estupefação habitual, pela novidade de a maioria dos estudantes ali presentes estarem a ver animais exóticos ao vivo pela primeira vez; já em relação à suposta exposição de Pintura, a questão foi diversa. Quando entrámos no Museu Gulbenkian, que parecia gigantesco, jamais esperaríamos ver algo parecido com aquilo de facto que ali estava exposto. Onde estavam as pinturas e as esculturas? O silêncio de meninos e meninas perante aquilo que estava a ser observado resultou em dois momentos: a maioria simplesmente ignorou os artefactos, decidindo-se entreter-se em brincadeiras avisadas, devidamente enquadradas pela equipa de segurança. Os «outros» ficaram congelados numa espécie de manto álgido, sem palavras, pois era literalmente impossível perceber o que ali se estava a visualizar. Lembro-me de tudo, como se fosse hoje – de vez em quando cruzava o meu olhar com o do professor David, cuja fácies não deixava de transparecer, também ele, e em abundância, os limites escatológicos produzidos por aquele espectáculo. Frases soltas e objetos diversos, algumas imagens em forma de fotografia, ou cartazes, e cartas, daquelas com envelope, iam delimitando a exposição. Títulos indecifráveis, diria mesmo inenarráveis, desfilavam à nossa frente, e apesar do esforço do professor David, tudo aquilo era confuso, mas ao mesmo tempo capaz de suscitar tremenda curiosidade. Depois do saboroso gelado de laranja e das sandes de mortadela, que a minha mãe providencialmente tinha concertado, lá estávamos de regresso à muito feia cidade da Covilhã. Ganhei coragem e perguntei diretamente ao professor o que era aquilo que tínhamos acabado de ver no Museu? Pois, na realidade, não se tratava nem de pinturas nem de esculturas, coisas que nós conseguíamos, apesar de tudo, reconhecer. Aquilo era, sem dúvida, outra coisa, mas nunca ARTE, ou algo parecido! O professor David, sempre atento e responsável, lá decidiu explicar algumas coisas. A primeira relacionava-se com facto de ele próprio ter convivido com o artista em França. Tinha então dezoito anos, quando foi para França, para escapar ao Serviço Militar Obrigatório, e à Guerra que ocorria nas colónias. Era, por isso, um dissidente e, à sua maneira, lutava contra o regime vigente. Foi assim que decidiu partir para terras gaulesas, onde passou a viver, e também a estudar – Artes Aplicadas. Conheceu alguns protagonistas da cena artística internacional, em particular um conjunto de artistas de vanguarda que estavam a produzir e a participar nas revoluções que iam da radicalidade das práticas artísticas em si mesmas, aos próprios conteúdos que, por inerência, as mesmas veiculavam, merecendo-lhe grande interesse e adesão. Foi também por essa altura que teve contacto com a Banda Desenhada, que estava então no auge, com as suas incríveis revistas e artistas. Tornou-se amigo de Jochen Gerz, o tal artista alemão, mas que vivia em França, o tal da exposição. Depois, mais sereno, explicou que a ARTE era como todas as coisas, estava sempre a mudar, e deu como exemplo a indústria automóvel. Uma carroça não é melhor ou pior do que um Ferrari, dizia, apenas cumpre um papel diferente. A título de verdade, também não percebemos nada do que aquilo queria dizer. Mas, continuando, as imagens artísticas, afirmava, são diferentes consoante o momento em que são feitas, e revelam coisas, dão que pensar! O mistério adensava-se. Rapidamente concluiu que éramos muitos novos para entender o fenómeno em questão, rematando: gostaram de conhecer o Museu Gulbenkian? Bem, depois as conversas foram sobre elefantes, girafas e hipopótamos, e ainda crocodilos.O confronto com aquela realidade foi tremendo. No que me diz respeito, foi um choque, um trauma, mas ao mesmo tempo a incorporação de um «sininho» que se alojou, como uma lapa, no meu interior. O que eram as imagens artísticas? Como é que funcionavam? O segundo momento foi igualmente singular e profícuo. Na Covilhã, nós recebíamos a velha Carrinha Citroën da Biblioteca Itinerante da Fundação Calouste Gulbenkian que, de sexta a sexta, trazia livros e revistas. Todas as sextas-feiras, no Jardim público do centro da cidade, às 16 e 30, lá estava eu à espera, para trocar os livros e as revistas. Depois da ida à Gulbenkian, a seleção livresca e revisteira tornou-se cuidada. Comecei por levar a revista Colóquio Artes, mas também alguns fascículos da Alfa, sobretudo da História da Arte, (hoje, sei que eram editados sob a responsabilidade do arquiteto e historiador de arte catalão Josep Pijoan). Entretanto, o meu pai Barata, apercebendo-se da minha inclinação, tinha-me oferecido os seis livros, editados pela Verbo, intitulados Obras Primas. Obras de Van Gogh, de Brueghel, do Impressionismo, as estampas japonesas, o Rubens e a Pintura Inglesa, eram temas tratados livro a livro. Tinha então 14 anos e praticamente já só me interessava por arte (bonecos), e também por futebol. Os livros da Verbo eram fascinantes, ainda hoje os utilizo: depois de um parco mas útil texto possuíam ilustrações em grande escala das pinturas, das esculturas e dos desenhos, e eram algo de extraordinário no que se refere à qualidade apresentada. Os fascículos Alfa, e sobretudo a revista Colóquio Artes, apresentavam, por outro lado, alguns artistas «misteriosos». Quem eram aquelas figuras que ali estavam, e por que eram tratados como artistas, e artistas importantes? Foi por ali, observando aquelas imagens uma e outra vez, que me fui acercando do que estava verdadeiramente em jogo, na Imagem artística, e em particular nas imagens visuais artísticas. Os artistas conotados com o modernismo já se constituíam como focos de problemas vários (o caso do Duchamp ou do Man Ray, ou mesmo do Kandinsky, muito difíceis de entender), que me introduziam na mais profunda indagação, ou mesmo desconfiança. Por consonância familiar (não é feitio, é defeito), a arte era algo bastante simples, pintar ou esculpir baseava-se na essência numa competência cognitiva e motora, cujo resultado seria a produção de uma Imagem com grande aparência da realidade. Este momento foi então de aprendizagem, e de conhecimento de autores, mas simultaneamente de instauração da dúvida, da perplexidade. Por fim, o terceiro momento. Em 1988, estudava na Escola Secundária de Belém-Algés – depois de uma passagem de 5 anos pela Escola António Arroio, onde a informação obtida foi, diríamos, «turva» – e conheci aí alguns companheiros de aventura, que ainda hoje me acompanham: o Tiago Batista, o Nuno Silva, O Pedro Pousada, a Sofia Cavalheiro, o Pedro Cavalheiro, o José Eduardo Rocha, a Paula Rocha, o Ian Mucznik, o Fernando Brito – que tinha à época uma exposição fantástica na galeria Quadrum – e o saudoso Miguel Mendonça (1967-1991). Deslocámo-nos a Paris, onde ficámos na casa da mãe de um nosso amigo, nos subúrbios de Paris. Fazia parte dessa viagem visitar o Museu do Louvre, e também aquele «não museu» que era o Centro Pompidou. Aproveitámos aquela viagem ao máximo, uma vez que o último comboio de regresso a casa onde estávamos instalados partia cerca das 12 e 10, em direção aos subúrbios. Se o falhássemos morreríamos de hipotermia de certeza, pois, em finais de Outubro, as noites, em Paris, já eram terríveis. A ida ao Louvre foi simplesmente fantástica. Ainda não havia, como agora, turistas aos molhos por mm2. Eram muitos, mas tudo era ainda muito calmo. Como disse, foi um acontecimento assombroso, ver aquelas coisas todas, os níveis da história dispostos em corredores, num frenético desfilar de acontecimentos e narrativas, agora possíveis de serem vistos face to face, mas ainda assim, tudo o que ali estava deslumbrava pelo aparato e não pelo total desconhecido. Ver pela primeira vez o Banho Turco, aquela magnífica pintura do Ingres, aquele formato redondo, onde um conjunto de mulheres seminuas evoluem numa harmonia erótico-deleitosa, dançando, tocando música ou simplesmente relaxando formosamente, constituía-se como algo de extraordinário. Pelo menos apelando (e pedindo desculpa por isso) à imaginação da população masculina da altura – o oriente ainda era, acima de tudo, um lugar imaginário, de lenda e de fantasia, e de mulheres muito bonitas, únicas. À mistura, emergia a técnica do artista. Tudo aquilo parecia ser uma fotografia in vivo. Ou ainda a poderosa pintura de Vermeer, intitulada A Tecelã. Tratava-se efetivamente de qualquer coisa de mágico. Aquela mulher, enclausurada num minúsculo retângulo coberto de óleo, com apenas 24,5 por 21 cm. Foi de facto, uma enorme surpresa, pois uma coisa é ver a imagem plasmada nos livros e nos catálogos e tentar, dessa forma, imaginar como aquilo é na realidade. E outra é, quando isso acontece, o «caos». Aquela cena, apesar de, como afirmei, ser diminuta, tem tudo, tudo. A mulher ali representada consegue dar-nos a ver o seu corpo e o seu estado de espírito, e tudo com subtis pinceladas, quase invisíveis, cores assertivas, entre os ocres, os pardos e os cinzentos e um tom de azul que tudo envolve no final. Como é que o Vermeer foi capaz de fazer aquilo? Para isso, sei-o hoje, a camera obscura é indispensável. E o que dizer do pintor Delacroix! Aquela estonteante cena que dá corpo a uma profunda mudança sociopolítica e cultural da França dos anos 1830, A Liberdade Guiando o Povo, mostra-nos um ambiente de Revolução e turbulência com o irromper de uma mulher de rosto esfíngico, mas garbosa e semidesnudada, cujo comportamento nos remete talvez para uma hoje já estafada metáfora da república e da justiça. Quando se está muito próximo desta Pintura, um enorme pano com cerca 2,60 por 3,25 m, temos acesso a um vasto recurso cromático, com pinceladas sóbrias que se sucedem em cascata, transportando imensas nuances coloridas. Tudo aquilo é um menu sensorial que nos enche a retina e despoleta vibrações, erupções. Esta imagem haveria mais tarde de voltar a ter em mim, por outras razões, uma outra valia, mas já lá iremos. Por o fim, o Pompidou. Era o momento mais esperado. Estavam ali, à mão de semear, os tais artistas misteriosos, ou melhor as obras cruas que os mesmos produziram. Esperava-me pois, desde logo, a aventura da descodificação. Eram imensos, a maioria deles desconhecida na totalidade – a ignorância era “vasta”. Ah, o Pompidou. Estava ansioso. Era ali que radicava a curiosidade total. Imensos artistas e, como disse, lugar das suas misteriosas obras que esperavam por mim. Sabia, antes de mais, que se tratava de um momento empolgante, gente diferente, antes detetada e por vezes debatida através de imagens suas exibidas em revistas, em livros e catálogos que avulsamente iam aparecendo. O Pompidou fazia de facto jus a tudo o que se dizia dele. Na realidade não parecia um museu. Pelo menos não era convencional. Ou melhor, como afirmava o Miguel Mendonça, poderia muito bem ter sido um laboratório químico à la Blake e Mortimer, mas nunca um museu de raiz. Mas era. Aquele intrigante projeto de arquitetura onde havia de tudo – tubos coloridos que nos passavam por cima da cabeça, túneis de vidro com vista panorâmica, escadas rolantes, cafetarias com mesas e cadeiras futuristas – é isso mesmo: futurista. O museu era assim ficção científica. E estavam lá os artistas, representados pelas sua obras – estranhas, extremas, puras, esquivas, aprimoradas. Mas também lá estavam os heróis do Modernismo, o Matisse lado a lado com o Picasso, as pinturas abstratas do Kandinsky, alguns notáveis Rouaults, entre outros. Por exemplo, os pintores ligados ao Fauvismo estão lá todos, e assim se consegue ter um vislumbre da sua atitude. Mas, sinceramente, era o quinto andar que me interessava, pois era, pelo menos na altura, onde estavam alojados os trabalhos contemporâneos, aqueles que personificavam a profunda mudança que estava em curso. As reconfigurações da Pintura e da Escultura, a elevação do estatuto do Desenho a Categoria Artística Absoluta, bem como o surgimento de outras: o Filme e a Vídeo-instalação, a Instalação, bem como também as novas abordagens da Performance, agora com um novo fulgor – atravessada que estava pela imagem em movimento, e também a fotografia e a incorporação do Cinema, enquanto dispositivo também ele próprio em transição. E foi o esplendor, ver as obras do Yves Klein, as suas sereias azuis, ou mesmo os objetos serigrafados, as pinturas do Andy Warhol. O deslumbre que foi presenciar o gigantismo das obras dos pintores americanos afetos ao Expressionismo Abstrato. As instalações dos artistas, sobretudo, oriundos da Vanguarda italiana e francesa, a arte simples de Giulio Paolini, os espelhos enigmáticos de Michelangelo Pistoletto, as árvores magnéticas de Penone, ainda hoje uma referência de peso para mim, ou mesmo a arte estranha, bruta, e de grande impacto visual, de Jannis Kounellis. Imenso trabalho, disperso, atribuído aos artistas do movimento Fluxus... Pensei imediatamente que um dia não chegava, tal era a novidade. Ao fim de algum tempo de permanência errante pelo local, percebi a instauração de um pequeno burburinho. Uma pequena confusão estava estonteantemente a instalar-se ali mesmo ao pé de mim. Em grande azáfama, um conjunto de jovens pertencentes ao staff do museu, numa intrépida ação, armavam num canto uma pequena fileira de cadeiras, um improvisado mini auditório. Tratava-se de facto de uma figura importante – Hubert Damisch (vim a saber mais tarde através do meu caderno preto que me acompanhava para todo o lado). Sentei-me e ouvi. Ouvi falar. Não sobre Arte Contemporânea, mas sobre o período Clássico, nomeadamente a questão da importância da Perspetiva, facto relevante e que começou logo por se impor no seu discurso, para jovens que pareciam ser, maioritariamente, do ensino secundário. Explicava que as pinturas, as cenas que estavam impregnadas naqueles panos coloridos, tinham uma missão: produzir no espetador uma ideia “Viva sobre a Vida”, um ponto de vista em detrimento de outro; e era essa a singular missão das imagens artísticas. Fornecer ao espetador ideologia pura. Senti imenso conforto a partir das suas estranhas palavras. Damisch desenhava palavras certeiras. Quando olhamos para uma cena do pintor Rembrandt, proclamava, estamos a percecionar um filtro cultural que vai muito para além do aspecto visual, embora este seja também muito importante. As imagens artísticas têm esse poder, transmitir legado ideológico, pois através delas temos acesso à forma como o mundo pensa. Incrível, incrível. E, continuava, a invenção do dispositivo perspético foi de facto um imenso acontecimento, pois ele conseguiu personificar as mudanças que ocorreram entre o mundo concebido de Bizâncio até ao Gótico internacional, e à passagem para o Renascimento. Este dispositivo, de Bruneslecchi a Alberti, transferiu o olhar teocrático concebido por Deus e inspirado no texto sagrado, para um olhar mais humilde, mais mundano, aquele que é efetuado pelos olhos e seus órgãos em geral. Mas, continuava, a relação com a fé mantinha-se, e naquela época, toda a gente era crente. A mudança visava não a questão religiosa, mas justamente, a incorporação de uma visão do homem, visão mais humilde é certo, mas mais adequada àquele momento de mudanças e transformações. Esta mudança de paradigma, que introduzia o modus vivendi diretamente no processo criativo, iria ter grande sucesso, e durar praticamente até ao século XIX. Agora temos novos paradigmas. A imagem voltou a adaptar-se. Os tempos são outros e este Museu tem como vocação mostrar exatamente isso – o que mudou e o que, em particular, nos mudou. Damish concluía: sempre que olharem para uma obra de arte, para uma pintura, ou para uma instalação, pensem que estão a ler um fragmento do passado, do presente, e quiçá do futuro. É por isso que existe este esforço em conservar as imagens artísticas, elas são vitais. E também é por isso que o Delacroix está sempre presente na minha mente, como parte deste ânimo. A pequena conversa, de forma inesperada, forneceu-me dados que viriam a ser muito importantes para a minha atividade artística. Percebi, não logo, mas no decorrer do tempo, a importância de não contribuir com as minhas imagens para espaços vazios. E também a responsabilidade de participar na capacidade de abrir mundos, que pertence, em geral, à esfera da Imagem. Essa passou, desde logo, a ser a minha ideia, a vontade que me impele. Por isso, quando estou em pleno ato criativo, todas estas questões iniciais estão, em permanência, presentes, e penso sinceramente que continuo ainda hoje a laborar em torno delas. Constituem-se como uma espécie de porto de abrigo. Um lugar sem passado, presente, e sem vislumbre do futuro – pois é isso mesmo, um porto de abrigo. Uma Imagem é algo extraordinariamente difícil de realizar, de materializar. É, assim, com certa desolação, que tenho acompanhado a atual proliferação de (supostas) imagens. Em particular de imagens de cariz visual – e até, imagine-se, imagens artísticas. Relembro muitas vezes as palavras sábias de Gilbert Durand, nesse espantoso texto que é L´Imaginaire: dizia ele que aquilo que está a acontecer há já algum tempo, na nossa periferia social, cultural e emocional, indica uma pura invasão imagética, descontrolada e massiva, uma enfermidade, uma patologia grave (Opia). Aquela que permitiu, via dispositivos e gadgets, num crescendo híper-contemporâneo, ao longo dos últimos 200 anos, o surgimento em larga escala, em massa, de imagens, imagens, imagens [1]. E, de certa forma, esta banalização, muito associada ao ato prático, à ação técnica capaz de produzir uma imagem – ou melhor (e falando de um modo platónico), algo que aparenta ser uma imagem – teve como resultado o nivelamento de todas as imagens – aquelas que aparentam e as outras, as verdadeiras. Todos aqueles que lidam com imagens, e imagens artísticas em particular, estão cientes da dificuldade que está presente na construção e efabulação das mesmas – estando sempre presente a ferramenta «representação». Este processo rocambolesco, e que pauta o panorama que nos acompanha, sobretudo há cerca de dois séculos, com início no surgimento das máquinas reprodutoras e sementais de imagens (camera obscura, fotografia, pantógrafo, praxinoscópio, etc.), teve como desiderato primordial o afinar e aprimorar de processos sabedores capazes de, num tremendo esforço tecnológico, elevar formalmente os níveis de competência das próprias imagens, que já eram, em si mesmas, proezas incríveis. Contudo, aquilo que, de forma gradual, foi sucedendo, foi antes de mais uma cada vez mais singela simplificação técnica, obviamente elaborada no sentido de se obter a qualquer custo a miragem de uma imagem. Este despovoamento não resultou de um ato desagregado. Na realidade, ele acompanhou todo o deambular hipertecnológico da sociedade de finais do séc. XVIII, produzindo uma visão, como muito bem sublinha Jonathan Crary, assente na construção de uma sociedade iminente capitalista, onde a política socioeconómica vigente empurra e encaminha a vertente cultural fatalmente rumo ao entretenimento [2]. Foi por isso, estou convicto, que se aceleraram as componentes técnicas capazes de simular imagens, e imagens visuais em particular, cujo destino estava marcado. O objetivo era associá-las, via dependência fisiológica, às pessoas, aos espetadores. As imagens, mesmo aquelas que, manifestamente, se expõem de forma rudimentar, possuem o vigor da «hipnose coletiva». Constituem-se como pura adição, e são-no pelos fatores envolvidos, e que todos bem conhecemos. Desde o início, foram e continuam a ser capazes de provocar um intenso desejo, sentido prazerosamente no nosso palco retiniano, lugar que fica irremediavelmente viciado na contingência, e também na constância, de as olhar intensamente. E é justamente aí que elas paulatinamente se foram impondo, substituindo-se a tudo e a todos. No decurso desta tragédia, aquilo que emerge é nem mais nem menos do que a corroboração de que as imagens, todas sem exceção, se tornaram invisíveis. Ou seja, é difícil escutá-las – ficaram imersas no intenso “lixo” gerado pelas máquinas ao serviço do sistema, e da sua capacidade de expressar carga imagética. No final, como disse, ficaram as imagens, mas invisíveis. E os paradoxos que as rodeiam têm-se evidenciado: por um lado, temos cada vez mais museus, e outros lugares que lutam por imagens artísticas, em especial de cariz visual. Por outro, no seio da sociedade, na vida real e nos propósitos da aventura coletiva, estas imagens parecem estar irremediavelmente em extinção, e se assim for as artes visuais estão a caminho do fim do seu vigor e interesse, pois parecem já não ter qualquer cabimento na sociedade vigente – da qual foram anteriormente protagonistas, como parte ativa da dialética do mundo e dos seus acontecimentos.
Pedro Cabral Santo
:::
Notas [1] Ver Gilbert Durand, L’Imaginaire: Essai sur les Sciences et la Philosophie de l'Image (Paris: Hatier, 1994). |